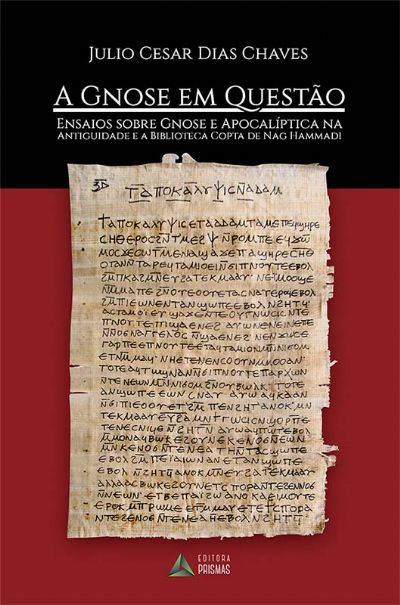segunda-feira, 26 de julho de 2021
Santana e São Joaquim e o dia dos avós
segunda-feira, 26 de abril de 2021
A fome do início do séc. XIV e a Peste Negra.
A fome do início do séc. XIV e a Peste Negra.
Versão em texto da aula de Baixa Idade Média
Introdução
A Peste Negra começou a afetar o velho
mundo (Europa e Ásia) principalmente no séc. XIV, ou seja, já rumando para os
momentos finais do período que nos interessa aqui, a Baixa Idade Média. Junto
com a “gripe espanhola”, a Peste Negra – também conhecida como “Peste Bubônica”
é a mais famosa epidemia da história da humanidade. Aliás, a própria existência
dessas duas epidemias demonstra que o que estamos vivendo agora – a pandemia da
COVID-19 – não é nenhuma novidade na história da humanidade. A diferença de
hoje é que as pessoas podem viajar de um continente a outro em algumas horas, o
que aumenta a capacidade e velocidade de expansão das doenças e faz com que
elas atinjam em alguns meses ou até semanas uma escala global. Além disso,
nunca tanta gente viveu aglomerada em cidades, o que também facilita a
contaminação.
Por outro lado, a ciência e a medicina de
hoje são muito mais avançadas do que nos séculos anteriores, e permitem ações
de prevenção e combate às epidemias que antes sequer poderiam ser cogitadas. Por
exemplo, as noções de higiene e sanitárias que começam a surgir no séc. XIX
ajudam muito na contenção da expansão das epidemias. Antes disso, as pessoas
não sabiam exatamente como acontecia os contágios das doenças e a prevenção
era, portanto, praticamente inexistente. Como as pessoas não viam os vírus e
bactérias, elas sequer sabiam que esses organismos existiam, logo, sequer
cogitavam a adoção de medias simples que nos ajudam a prevenir o contágio hoje,
como lavar as mãos e passar álcool gel.
Além disso, em muitos momentos da história
da humanidade, principalmente nos ambientes urbanos, não existia qualquer
indício daquilo que consideramos hoje saneamento básico e muito menos água
potável. As casas ficavam muito perto uma das outras, tento ruas e vielas pouco
espaçosas e com pouca ventilação; principalmente nos locais mais pobres, não
havia sequer calçamento. Não havia rede de recolhimento e tratamento de esgoto,
era tudo a céu aberto; e as pessoas não podiam tomar banho com frequência. Os
romanos foram precursores em algumas noções de saneamento, já que possuíam
latrinas e banhos públicos; mas, mesmo assim, algo ainda longe das noções que
temos hoje de higiene e saneamento básico.
Todas essas condições precárias eram
altamente favoráveis para a proliferação de vírus e bactérias, além de serem
favoráveis ainda à proliferação de parasitas e hospedeiros. Esse último aspecto
foi particularmente importante para a expansão e mortalidade da Peste Negra, já
que ela era basicamente transmitida por pulgas de ratos. Obviamente, em
ambientes urbanos tão insalubres e com tanta matéria orgânica em decomposição,
os ratos se proliferavam à vontade. E essa era a grande dificuldade de se
combater a proliferação da própria Peste Negra.
Mas, como dito anteriormente, outras
grandes epidemias assolaram a humanidade ao longo da história – ou povos
específicos – além das conhecidas Peste Negra e Gripe Espanhola. Na
Antiguidade, por exemplo, teve lugar a chamada “Praga Antonina” ou “Peste
Antonina” – que recebeu esse nome por ter acometido o Império Romano durante a
dinastia dos antoninos. É provável que os imperadores Lucio Vero (+169) e Marco
Aurélio (+180) tenham sido vítimas mortais dessa praga. Os sintomas dessa
doença eram febre, erupções cutâneas e diarreia. Os relatos de alguns
historiadores da Antiguidade sobre essa peste servem como fontes primárias;
dentre eles, pode-se destacar Aminiano Marcelino, Dião Cássio, Eutrópio e
Cláudio Galeno. Calcula-se que ela tenha feito cerca de 5 milhões de vítimas
mortais, com uma taxa de mortalidade em torno de 25%; Dião Cássio dizia que só
em Roma, morriam cerca de 2 mil pessoas por dia. O historiador Rafe de Crespgny[1] estima que a peste antonina
tenha se originado na China, no séc. II a.C., durante a dinastia Han. É
provável que tenha entrado em Roma por meio do exército, durante o cerco a
Selêucia - entre 165-166 – se espalhando depois pelas legiões ao longo do Rio
Reno e depois por todo o império. É bastante provável que essa peste tenha sido
responsável pelo enfraquecimento do exército romano e do próprio Império,
estando na origem da crise que iria se acentuar no século seguinte.
Na Antiguidade Tardia, durante o reinado do
Imperador Justiniano (527 a 565), o Império Bizantino também foi assolado por
uma peste cujos sintomas se assemelhavam aos da Peste Negra. É possível,
portanto, que a peste justiniana tenha sido a primeira onda da Peste Bubônica. A
epidemia teve seu auge nos anos 541-544. Apesar de ter muito provavelmente
surgido na China, teria chegado ao Império Bizantino vindo com as pulgas dos
ratos que entravam nas embarcações de grãos vindos do Egito e eram distribuídos
em vários locais do império. Era transmitida pelas pulgas dos ratos, que
continham a bactéria Yersinia pestis.
Calcula-se que tal peste tenha sido responsável por matar cerca da metade da
população da Europa; fala-se em dezenas de milhões de mortos e algumas
estimativas chegam até a 100 milhões. Tanto no caso da Peste antonina quanto da
peste justiniana, esses números são estimativas e não passam de estimativas.
Os antecedentes da Peste
Negra: a fome de 1315
Ao final do séc. XIII e início do séc.
XIV, a expansão e renascimentos comercial e urbano começavam a dar os primeiros
sinais de desaceleração e estagnação. Depois do apogeu do séc. XIII: o século
de grandes santos e personalidades (como o Papa Inocêncio III, e os santos
Tomas de Aquino, Luís IX, Francisco e Domingos de Gusmão), das universidades,
da filosofia tomista, do renascimento das cidades e do comércio; veio um
período de estagnação. Nas palavras de Henri Pirenne “É também o momento em que
a população deixa de crescer, e essa interrupção constitui o sintoma de maior
significação do estado de uma sociedade estabilizada e de uma evolução que
chegou ao apogeu”[2].
A partir de 1315, uma crise de alimentos
acometeu a Europa e causou uma grande fome. Tal crise durou até o ano de 1317. Pirenne
cita o exemplo da cidade belga de Ypres – na região de Flanders – onde o
magistrado comunal mandou sepultar 2794 cadáveres, entre os meses de maio e
outubro de 1316. Se levarmos em conta que a população da cidade girava em torno
de 20 mil pessoas, nesse intervalo de 6 meses, mais de 10% da população morreu.
A grande fome foi causada por chuvas acima da média na primavera e verão de
1315; as fortes chuvas mantiveram as temperaturas baixas e impediram que as sementes
germinassem, e isso afetou gravemente as colheitas, que foram muito ruins. A
escassez de grãos fez com que os preços subissem.
Diante da escassez crônica de alimentos,
buscou-se alternativas que só pioraram a situação depois: matou-se para comer animais
de reprodução e se consumiram os grãos reservados para o plantio dos anos
seguintes. Crianças foram abandonadas – realidade ilustrada, por exemplo na estória
de João e Maria – e negava-se comida
aos idosos para que os jovens tivessem o que comer e se preservasse as gerações
futuras. Há ainda crônicas que relatam episódios de canibalismo. Toda a
população sofreu, mas os camponeses (cerca de 90% da população), foi o segmento
que mais padeceu. A crise alimentar atingiu principalmente as regiões do norte
da Europa, como a atual Grã-Bretanha, o Sacro-Império, o norte da França,
Escandinávia e os Países Baixos. E atingiu indiretamente outras áreas da
Europa. Mas outras regiões foram indiretamente afetadas por fazerem fronteiras
com esses países.
As condições meteorológicas começaram a
voltar ao normal em 1317. Mas a reserva de grãos para o plantio era tão baixa
(quase inexistente) que a Europa só pode voltar aos níveis normais de produção
de alimentos por volta de 1325. O problema é que essa Europa já enfraquecida
estava prestes a enfrentar uma crise ainda maior, que, cerca de 30 anos mais
tarde, entre 1347 e 1350, iria ceifar cerca de 1/3 de sua população.
A Peste Negra
A Pandemia da Peste Negra foi a mais fatal
da História e atingiu não somente a Europa, mas também a Ásia; estima-se que
juntando os dois continentes a pandemia em questão tenha causado a morte de 75
a 200 milhões de pessoas. Como visto, a Peste Negra chegou a uma Europa que já
estava enfraquecida e debilitada: além da grande fome de 1315-1317, a população
de modo geral era subnutrida: não havia grande variedade de alimentos e,
obviamente, nenhum tipo de controle nutricional. As condições de vida eram
precárias e a esperança de vida geralmente não passava dos 40 anos.
Além disso, o séc. XIV foi marcado por
muitas guerras entre os países, reinos, ducados e feudos da Europa. Pirenne,
por exemplo diz que: “A essas calamidades devidas à natureza, a política
acrescentou outras de idêntica crueldade. A Itália, durante todo o século, foi
dividida por lutas civis. A Alemanha foi presa de uma anarquia política
permanente. A Guerra dos Cem Anos, enfim, e principalmente, arruína a França e
esgota a Inglaterra”[3]. De fato, a Peste Negra
chega a seu pico durante a primeira fase da Guerra dos Anos que se aconteceu
entre 1337-1350.
Após o séc. XIV, a Peste Negra não chegou
a desaparecer na Europa completamente; ela ia e voltava em ondas epidêmicas,
menos fortes, no entanto. O que acontecia é que a peste acabava por contaminar
a maioria da população; os que não morriam ficavam imunes; depois de algumas
gerações, os indivíduos imunes já não existiam mais e a peste voltava a
aparecer numa nova onda epidêmica. A Peste só chegou a desaparecer no início do
séc. XIX, quando o problema passou a ser a cólera. Os sintomas eram: tosse com
sangue, dores musculares, principalmente no abdômen, inchaço dos gânglios
linfáticos (que causavam bolas e manchas na pele, muitas vezes de cor escura),
principalmente na virilha e axilas, febre e calafrios, dores de cabeça, náuseas
e vômitos, dentre outras coisas.
O que causa a doença é a bactéria Yersinia pestis; o hospedeiro é uma
espécie de pulga de roedores (Xenopsylla
cheopis); geralmente, os roedores são geralmente ratos pretos indianos (Rattus rattus); mas a doença pode
ocorrer por meio de outros roedores; há relatos – raros – de seres humanos que
pegaram a doença por terem contato direto com o sangue de roedores silvestres. O
rato preto – hoje raro – não foi o responsável por trazer a peste para a
Europa, mas como ele tinha hábitos naturais mais dóceis, ele não tinha medo de
se aproximar dos humanos. A partir do séc. XVIII, os ratos pretos foram sendo
suplantados pelos ratos cinzentos (Rattus
norvegicus), mais ariscos e que se aproximam menos dos humanos; isso
provavelmente ajudou a peste a desaparecer da Europa.
As
origens
A Peste Negra provavelmente surgiu nas planícies
áridas da Ásia, na China. Por meio da rota da Seda, ela foi se difundindo até
chegar a região da Crimeia, atual Rússia/Ucrânia.Foi provavelmente trazida para
a Europa pelos mongóis, que sob o comando de Gêngis Khan estabeleceram um
império que ia desde a Manchuria, na China, até a Ucrânia. Por meio da rota da
Seda, a onda epidêmica se espalhou de maneira generalizada e rapidamente, da
Ásia Central até a Europa, passando pelo Oriente Médio.
Durante o cerco mongol da colônia genovesa
de Caffa – no séc. XIV – foi que a epidemia entrou na Europa: após 2 anos de
cerco, os soldados mongóis começaram a ser contaminados pela peste e os
cadáveres dos mortos foram lançados para dentro das muralhas de Caffa por meio
de catapultas. A epidemia tomou conta da cidade e se diz que foram tantos
óbitos que os corpos precisavam ser queimados, por não haver como enterrar a
todos. Diante da situação catastrófica, vários genoveses fugiram de navio de
Caffa, muitos deles já infectados, morreram no caminho e os navios ficaram
cheios de cadáveres. Além disso, ratos pretos também entravam nesses navios e
acabavam fazendo a viagem.
Quando os navios aportavam em alguma
cidade, os ratos escapavam e se espalhavam pela própria cidade, cuja população
passava a ficar infectada. Isso ajuda a explicar porque mesmo as cidades que
não permitiam que os marinheiros dos navios infectados saíssem dos navios foram
infectadas. Com o tempo, as pulgas infectadas dos ratos que saiam dos navios
acabavam infectado também os ratos locais, e isso aumentava a epidemia. O
primeiro porto onde os navios genoveses aportaram foi Constantinopla, em maio
de 1347; logo depois rumaram para a Itália: Messina (setembro) e Gênova (novembro).
E no mesmo mês, chegaram ao sul da França.
A partir dessas localidades
mediterrânicas, a epidemia se espalha por toda a costa do mar Mediterrâneo em
cerca de 1 ano. No ano seguinte chega à Grã-Bretanha e Portugal e 3 anos
depois, 1350, já tinha atingido a Escandinávia. Algumas cidades e regiões foram
inexplicavelmente poupadas, como Milão e a Polônia.
A quantidade de mortes por causa da peste
– num curto período de tempo – foi tão grande que muitas vezes não se conseguia
sepultar todo mundo. Foram necessárias as construções de novos cemitérios. Alguns
autores nos deixaram relatos sobre a peste, dentre eles, Giovanni Boccacio e
Guy de Chauliac, médico do Papa Clemente V. Na época da primeira onda
epidêmica, o papado estava instalado em Avignon, na França, no episódio que
ficou conhecido como “Exílio em Avignon” (1309-1377), causado em grande medida
pelas tentativas de intervenção de Felipe, o Belo, nos assuntos da Igreja.
Durante o período da primeira onda epidêmica, o Papa foi Bento XII (1342-1352) destacou-se
por prestar socorro físico e espiritual aos doentes da peste principalmente em
Avignon. Ele também se destacou na proteção aos judeus, injustamente acusados
de serem os responsáveis pela peste.
Os
médicos
Um personagem ao mesmo tempo conhecido e lendário
da Peste Negra foi o médico. Obviamente, os médicos não podiam fazer muita
coisa nem na prevenção nem no tratamento da doença, limitados pelo conhecimento
e tecnologia da época. Na maioria das vezes, provavelmente apenas prestavam
cuidados paliativos e de alívio aos doentes e lidavam com os corpos dos mortos.
Mesmo assim, eram heroicos e se expunham ao contato com os infectados, mesmo
sem saber direito como se dava a infecção. Adotavam roupas, máscaras e longas
facas, que usavam para cortas os bulbões linfáticos e aliviar dores. E também
bastões, para revirar os corpos e evitar contato direto com eles. No entanto –
ao contrário do que muitos pensam – aquela famosa e mórbida vestimenta negra
com a máscara com o bico semelhante ao de um corvo não existia e não foi usada
na primeira e mais famosa onda epidêmica da Peste Negra, a do séc. XIV. Aquela
vestimenta e máscara só surgiram em 1619, inventadas pelo francês Charles
Delorme, médico da família Medici.
sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021
Versão escrita da aula sobre as origens do Sacro Império Romano-Germânico que ministrei essa semana na disciplina Baixa Idade Média, na UPIS Faculdades Integradas.
As
Origens do Sacro Império Romano-Germânico
Introdução
Ø A partir mais ou menos do séc. XI, ou seja, a partir do início do período que chamamos de Baixa Idade Média, o Sacro Império Romano-Germânico passa a ser um dos protagonistas da história, juntamente com o Islã, a Igreja e os reinos da França e da Inglaterra. O seu papel político e cultural, bem como suas relações com a Igreja – nem sempre pacíficas – são de fundamental importância para o entendimento da história dessa segunda parte da Idade Média. Na Baixa Idade Média, passa-se a falar, portanto, dos 3 grandes reinos católicos: a França, a Inglaterra e o Sacro Império Romano Germânico, e, respectivamente, dos 3 grandes príncipes católicos.
Ø As origens do Sacro Império Romano-Germânico estão ligadas à dinastia carolíngia e ao fim do próprio Império Carolíngio. O fim do Império Carolíngio culmina a médio prazo com o surgimento do Reino da França e do próprio Sacro Império Romano-Germânico. Do ponto de vista político, econômico e social, o Sacro Império Romano-Germânico funcionava de acordo com a lógica do vínculo feudal. Ou seja, havia uma nobreza dividida em vários níveis e graus, com suas terras e domínios, vinculadas umas às outras por meio do vínculo de fidelidade de suserania/vassalagem. O imperador do Sacro Império Romano-Germânico, portanto, apesar do título, estava longe de ter poderes absolutos. Sendo ele um nobre dentro desse teatro do vínculo feudal, a eficácia do seu título de imperador dependia dos vínculos típicos do sistema; e, como veremos, o imperador era eleito pelos demais nobres com direito a voto.
Assim sendo, não havia poder absoluto, nem centralização política; o poder estava fragmentado entre a nobreza. É como se o Sacro Império Romano-Germânico fosse uma espécie de confederação de vários reinos, principados, condados, marcas, etc, unidos simbolicamente sob a égide do imperador. Houve ao menos um caso no qual o Imperador chegou a ser destronado pela nobreza, inclusive: Henrique IV, por conta de sua disputa com o Papa Gregório VII.
O Sacro Império Romano-Germânico foi oficialmente fundado em 962 - por Otão I – e oficial e definitivamente dissolvido em 1806, durante a Era Napoleônica. Durante todo esse tempo, a lógica do vínculo feudal e da fragmentação do poder permaneceu ativa – em menor ou maior grau – não havendo, portanto, uma efetiva centralização de poder. Isso diferencia o Sacro Império Romano-Germânico dos outros 2 grandes reinos católicos da Baixa Idade Méida, a Inglaterra e a França.
Ao final da Baixa Idade Média, principalmente a partir do séc. XIV, Inglaterra e França começaram a passar por um processo de enfraquecimento do sistema feudal que, do ponto de vista político, culminou com o surgimento dos Estados-nação e das monarquias absolutistas da França e Inglaterra. Juntamente com Espanha e Portugal, que também surgem como reinos na Baixa Idde Média, Inglaterra e França são as grandes monarquias absolutistas da Idade Moderna. Deve-se frisar, no entanto, que o processo de formação dos reinos de Portugal e Espanha foi diferente, mas isso é assunto para outra aula.
Ø Portanto, diferentemente dos casos de Inglaterra e França, onde o sistema feudal entrou em declínio, dando lugar à centralização do poder, no Sacro Império Romano-Germânico, o poder permaneceu fragmentado ao longo de toda a Idade Moderna, não havendo condições para a formação de um Estado-nação nos moldes típicos de uma monarquia absolutista. Posto isso, cabe dizer que o Sacro Império Romano-Germânico seria o prelúdio do que viria a ser a moderna Alemanha; mas por conta dessas características políticas e da fragmentação do poder, a Alemanha como país propriamente dito surge somente no séc. XIX, por meio do processo conhecido como “Unificação da Alemanha”, oficializado em janeiro de 1871.
Processo semelhante ocorreu na Itália; a Itália propriamente dita, como país e Estado, só surge no séc. XIX, por meio do processo conhecido como “Unificação da Itália”, encabeçado por Vitorio Emmanuelle II, até então, rei da Sardenha, e, a partir de 1861, (ano em que o processo de unificação começa) rei da Itália. Antes disso, a Itália como país propriamente dito não existia; o que existia era um conjunto de pequenos reinos, principados, repúblicas e cidades-estados independentes ou atreladas a algum outro Estado.
Ø Voltando ao caso do Sacro Império Romano-Germânico, é bastante comum falar-se em “Alemanha” antes da unificação do séc. XIX. Mas se trata apenas de uma figura de linguagem. Muitas personalidades históricas são tidas como “alemãs”, mesmo antes da existência oficial da Alemanha, por terem nascido em territórios que faziam parte do Sacro Império Romano-Germânico e que partilhavam dessa cultura germânica e que viriam a fazer parte da futura Alemanha. Por exemplo, o músico Johan Sebastian Bach é tido como alemão, mas, do ponto de vista político, seria mais preciso dizer que ele nasceu no principado de Eisenach. Bethoven nasceu na Colônia. Karl Marx nasceu na Renânia. Apenas para citar alguns exemplos.
Ø Enfim, se por um lado, houve na Inglaterra e França um processo de enfraquecimento político do sistema feudal – que culminou com o absolutismo – no Sacro Império Romano-Germânico aconteceu o contrário, e o poder político continuou fragmentado. Apesar da imensa quantidade de pequenos territórios feudais como principados, ducados, marcas e condados que formavam o SIRG, pode-se destacar como principais os reinos da Alemanha, Boêmia, Borgonha e o reino itálico.

Sacro Império Romano-Germânico durante a dinastia Hoheustafen, sécs. XII- XIII
Nota-se a quantidade de territórios que formam o conjunto do Império
O Sacro Império Romano-Germânico e a Igreja
Ø Os
domínios do Sacro Império Romano-Germânico se estendiam até o Sul e faziam fronteira com os territórios
do que seria hoje a Itália; em vários momentos de sua história, o Sacro Império Romano-Germânico chegou a
ter territórios vassalos na Itália, chegando mesmo a invadir outros desses
territórios. O próprio reino da Itália, ao norte da península itálica, foi um dos reinos mais importantes do
Ø Essa proximidade e influência faziam com que o Sacro Império Romano-Germânico estivesse em constante contato com os territórios pontifícios e, consequentemente, com o Papado. Era um contato muitas vezes mais constante e influente que o dos demais reinos católicos, Inglaterra, França e, posteriormente, Espanha e Portugal. Assim sendo, a influência – e até mesmo as tentativas de ingerência – do Sacro Império Romano-Germânico e de alguns de seus imperadores nos assuntos eclesiásticos ao longo da Baixa Idade Média não foi pequena.
Essa influência e as tentativas de ingerência nem sempre eram recebidas pelo Papado e pela Igreja de modo pacífico. Em vários momentos, a Baixa Idade Média testemunhou embates entre o Sacro Império Romano-Germânico – principalmente na pessoa do imperador – e a Igreja – principalmente na pessoa do Papa. O auge desses embates foi a chamada “controvérsia das investiduras”, que envolvia as tentativas de nobres do Sacro Império Romano-Germânico e do Imperador de nomear bispos e abades à revelia da Igreja e até de influenciar e chancelar a escolha de Papas. O clímax dessa disputa opôs o Papa São Gregório VII e o Imperador Henrique IV, que chegou a ser excomungado pelo próprio Papa.
A ação de Gregório VII diante das tentativas de ingerência do Sacro Império Romano-Germânico constituíram um dos aspectos mais importantes de um processo reformador levado a cabo pela Igreja na Baixa Idade Média. Esse processo ficou conhecido como Reforma Gregoriana. Em outros momentos, a proximidade gerou relações mais amistosas entre o Papado e o Sacro Império Romano-Germânico, como no caso de algumas Cruzadas ou na criação do Tribunal do Santo Ofício visando o combate a heresias.
As Origens do Sacro Império Romano-Germânico
Ø As origens do Sacro Império Romano-Germânico encontram-se no fim do Império Carolíngio e na famosa Partilha ou Tratado de Verdun (843). Após o reinado de Luís, o Piedoso (840), ocorreu uma crise sucessória, que envolveu os membros da dinastia carolíngia e, consequentemente, os filhos do próprio Luís, netos de Carlos Magno. Lotário I, filho mais velho de Luís, reivindicou o controle de todo o Império. No entanto, os irmãos de Lotário – Luís, o Germânico e Carlos, o Calvo – não aceitaram a situação e uma guerra sucessória começou.
A crise foi resolvida com o Tratado de Verdun, que dividiu o Império entre os 3 descendentes de Luís, o Piedoso e pretendentes ao trono: Carlos, o Calvo, ficou com a parte Ocidental do Império, o que compreendia todas as terras a Oeste do Reno; à época, essas terras receberam o nome de Francia Ocidental, e seriam o prelúdio do reino da França. Paralelamente, Pepino II de Aquitânia, neto de Luís, o Piedoso e filho do falecido Pepino I de Aquitânia ficou com o reino da Aquitânia, vassalo de Carlos, o Calvo. Lotário ficou com a parte central do Império, que incluía os territórios ao norte da Itália, Países Baixos, Alsácia, Lorena, Borgonha e Provença. Esse conjunto de territórios foi chamado de Francia Central. Por ser o filho mais velho de Luís, o Piedoso, Lotário conservou o título de Imperador, que mais tarde seria reivindicado pelos imperadores do Sacro Império Romano-Germânico. Luís, o Germânico, ficou com os territórios orientais. Seu reino ficou conhecido como Francia Oriental. Mais tarde, receberia o nome de Reino da Alemanha e seria o maior e mais importante membro do Sacro Império Romano-Germânico.
Ø O último monarca da Francia Oriental da linhagem carolíngia foi Luís, a Criança, que morreu em 911 com apenas 18 anos. Após a morte de Luís, a Criança, a nobreza elegeu como seu sucessor Conrado I, um franco que não era, no entanto, carolíngio. O sucessor de Conrado I foi Henrique I da Germânia, saxão, que governou entre 919 e 936; a partir de 921, passou a ser denominado de rex francorum orientalum (rei dos francos do leste/oriente). Henrique I da Germânia é tido como o fundador da dinastia otoniana.
O sucessor de Henrique I foi seu filho, Otão I, que foi eleito em 936. Em 951, casou-se com Adelaide da Itália, a rainha do reino itálico, o que lhe garantiu controle desse reino. Com o tempo, os 3 reinados oriundos do Tratado de Verdun foram sendo absorvidos ou anexados ao que começava a ser 2 grandes reinos, a oeste, a França, e a leste o Sacro Império Romano-Germânico. Otão I, com o controle de vários territórios, domínios feudais e reinos, além de contar com o apoio de uma parte considerável da nobreza de outros territórios, foi oficialmente coroado imperador pelo Papa João XII no dia 2 de fevereiro de 962. Nascia, oficialmente, o Sacro Império Romano-Germânico. Otão ainda foi nomeado o guardião dos Estados Pontifícios, por meio do Diploma Ottonianum, documento ratificado pelo próprio e pelo Papa.
O Título de Imperador a Origem do nome SIRG
Ø Vale lembrar que o título de Imperador havia sido conferido a Carlos Magno e chancelado pelo próprio Papa Leão III, no Natal do ano 800. Mas nesse caso, ainda não existia Sacro Império Romano-Germânico; Carlo Margno era imperador dos Francos. Assim sendo, o título de imperador permaneceu na linhagem carolíngia e foi transmitido após o Tratado de Verdun a Lotário, o neto mais velho de Carlos Magno. O título permaneceu na linhagem carolíngia por décadas após a morte de Luís o Piedoso, mas caiu em desuso no início do séc. X. O título foi resgatado e reivindicado novamente por Otão I, que acabou se tornando oficialmente o primeiro imperador do SIRG.
Desse modo, a partir de Otão I, o Sacro Império Romano-Germânico passa a existir de forma contínua e ininterrupta por 844 anos, até a sua dissolução por Napoleão, que havia conquistado ou submetido ao seu comendo boa parte da Europa, em 1806. Na ocasião, o Sacro Império Romano-Germânico foi substituído pela Confederação do Reno. Alguns historiadores, no entanto, preferem situar a origem do Sacro Império Romano-Germânico no próprio Carlos Margno, já que ele foi o primeiro a usar oficialmente o título de Imperador. Mas nos parece mais acertado considerar que o Sacro Império Romano-Germânico tem, de fato, seu início com Otão I.
Ø Apesar de o título de imperador ter sido restaurado por Otão I, a parte relativa a “romano” começoi ser usada posteriormente. Otão II – imperador de 973-983 – foi o primeiro a usar o título de Imperador Romano. Em 1034, usou-se pela primeira vez o termo “Império Romano” para designar os territórios sob o comando de Conrado II. E em 1157, o termo “Império Sagrado” foi usado pela primeira vez. O termo Sacrum Romanum Imperium – em alemão, Heiliges Römisches Reich – apareceu pela primeira vez em 1254. Após diversas variações ao longo dos séculos seguintes, o termo definitivo e consagrado pela historiografia (Sacro Império Romano-Germânico, em alemão, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) surgiu em 1512.
Ø A utilização de romano no nome evoca, evidentemente, o passado glorioso do império romano, algo já sonhado por Carlos Magno e seu sonho de uma Europa unida. Ao adotar o nome de “Império Romano”, esse império na Europa se colocava numa situação ambígua diante daquilo que chamamos de Império Bizantino. Nunca é demais lembrar que “Império Bizantino” é uma invenção da historiografia, uma invenção, até certo ponto etnocêntrica. O Império Bizantino nada mais é que o verdadeiro Império Romano do Oriente que sobreviveu às invasões barbaras que continuou a existir e em alguns momentos até a prosperar ao longo de toda a Idade Média. Ao usar o nome de "Império Romano", o Sacro Império Romano-Germânico adotava uma postura não só de herdeiro do verdadeiro império romano – o que é, no mínimo discutível, dada a existência do próprio Império Bizantino – como também buscava uma espécie de reconhecimento em relação ao seu rival Oriental. No entanto, os Bizantinos jamais aceitaram o status de “romano” no Sacro Império Romano-Germânico, e sequer chamavam o imperador de imperador.
Em 1759, Voltaire escreveu no Essai sur l'histoire générale et sur les mœurs et l'esprit des nations que o Sacro Império Romano-Germânico não era nem sagrado, nem romano, nem império. Essa declaração do filósofo ilumista francês é sintomática. Não era sagrado porque, apesar da proximidade do poder religioso com o temporal, havia uma separação mais clara entre ambos do que no caso do Oriente, chegando a haver, como vimos, até mesmo controvérsias sérias entre ambos. Não era obviamente romano, porque não houve continuidade entre esse império e o Império Romano, apenas uma apropriação do nome. E não era Império porque, apesar do título, o imperador não tinha poderes absolutos; na verdade, seus poderes dependiam dos vínculos feudais e o Sacro Império Romano-Germânico era mais uma espécie de confederação de territórios feudais.
quinta-feira, 21 de janeiro de 2021
Posto aqui no Blog a versão escrita da minha palestra na XXI Semana de História da Universidade Estadual de Goiás, realizda no dia 2 de dezembro de 2020
A
África como centro intelectual do Cristianismo na Antiguidade Tardia:
O
Egito do séc. IV
Introdução
Quando
se fala em Egito, muito provavelmente, a primeira coisa na qual se pensa é nos
faraós, nas pirâmides e na Esfinge, em outras palavras, naquilo que os
historiadores convencionaram chamar de Egito dinástico. É bem provável, aliás,
que só se pense nisso, como se o Egito se resumisse a isso. Para o senso comum,
a mídia e a indústria do entretenimento, esse é o único Egito que existe. É
como se os cerca de 6 mil anos de existência e história do Egito se resumissem
ao período dos faraós. Pode parecer estranho, mas fica a impressão de que o
Egito desapareceu ao fim do período dinástico e ficou oculto por mais de 2 mil
anos para reaparecer magicamente no séc. XX, para ser visitado pelos turistas
ocidentais, ávidos por conhecer as pirâmides e a Esfinge e ver as múmias.
Será
que nada de importante ou interessante aconteceu no Egito desde a deposição do
último faraó, no séc. IV a.C.? Nada que fosse digno da atenção do grande
público e até mesmo dos historiadores? Na melhor das hipóteses, há de se pensar
também em Cleópatra; de modo mais Exato, Cleópatra VII Filopátor, a famosa
rainha que encantou os romanos. E nesse caso, é bem possível que se cometam
anacronismos, associando a famosa rainha helenística – ou seja, de origem grega
– ao período faraônico, como se ela fosse contemporânea dos faraós.
No
entanto, cerca de 200 Anos separam o fim do período dinástico – ou seja, a era
dos faraós - de Cleópatra VII. Para elucidar como essas percepções genéricas e
anacrônicas da história do Egito podem ser enganadoras, cerca de 2500 anos
separam Cleópatra VII da construção da famosa Esfinge da necrópole de Gizé.
Portanto, o intervalo de tempo que separa Cleópatra da construção da Esfinge é
maior do que o intervalo de tempo que separa a própria Cleópatra de nós.
Diante
dessas considerações iniciais, fica a pergunta: o que mais aconteceu no Egito
ao longo da história e que vai além do período faraônico e de Cleópatra?
Obviamente, não há tempo aqui para se fazer um resumo de toda a história do
Egito desde o período dinástico até os dias de hoje. Não seria sequer possível
falar de toda a história do Egito na Antiguidade. Assim sendo, apenas a título
ilustrativo, o Egito Antigo, além do período dinástico, pode ser dividido nos
períodos helenístico, romano e bizantino – esse último, já limítrofe com a
divisão tradicional da história, que fala em Antiguidade e Idade Média. Costuma-se
ainda falar em Egito copta, fazendo-se referência ao Egito nativo, que sofreu
pouca ou nenhuma influência da helenização – cultura grega – ou romanização. O
Egito copta possuía, inclusive, uma língua própria, que era usada por uma parte
considerável dos cristãos da região na época romana/bizantina e que foi sendo
gradualmente substituída pelo árabe com a conquista islâmica, a partir do séc.
VII.
Mas
para o assunto que deve ser tratado aqui, será usado outro conceito, o de
Antiguidade Tardia. O objetivo é mostrar como o Egito e, portanto, a África,
foi o centro intelectual do cristianismo nesse período. Nesse período, o Egito
foi o palco de alguns dos principais acontecimentos que seriam fundamentais
para o desenvolvimento do cristianismo que, nunca é demais dizer, é uma das
forças modeladoras da nossa civilização ocidental.
Eu
iria além – mesmo correndo o risco de ser polêmico - e diria que o auge da
história do Egito não é a civilização faraônica, mas o Egito da Antiguidade
Tardia, com toda sua efervescência cultural, demonstrada, por exemplo, pela
atuação de filósofos neoplatônicos e pelos grandes teólogos cristãos que lá
atuaram nessa época. Em outras palavras, o cristianismo e o Ocidente são o que
são hoje devido em grande medida ao que aconteceu no Egito – e, portanto, na
África – na Antiguidade tardia, principalmente no séc. IV. O objetivo dessa
palestra, portanto, não é somente demostrar o que aconteceu de importante no
Egito nesse período, mas demostrar como o Egito – e, portanto, a África – são
fundamentais para a formação do Ocidente.
Falemos
agora um pouco sobre o conceito de Antiguidade Tardia.
A Antiguidade Tardia
O
objetivo do conceito de Antiguidade Tardia é trazer algumas nuances em relação
à divisão tradicional da história em períodos, marcados por rupturas e divisões
abruptas. Assim sendo, ao invés de enxergar a passagem da Antiguidade para a
Idade Média como uma ruptura, baseando-se num acontecimento repentino – a queda
do último imperador romano do Ocidente em 476 – o conceito de Antiguidade
Tardia propõe que essa transição tenha acontecido de forma gradual.
Quando
se fala em Antiguidade Tardia, portanto, fala-se de um período de transição
gradual entre a Antiguidade e a Idade Média, período esse que se situaria mais
ou menos entre os sécs. III e VIII, e que moldaria em grande medida a Idade
Média e a civilização Ocidental. Muitos dos fenômenos fundamentais para a
formação do medievo começaram a ganhar forma nesse período. Um exemplo
elucidativo é o monasticismo cristão, particularmente importante para o que se
discute aqui, já que surgiu no Egito do séc. IV.
Falemos
agora rapidamente da chegada do cristianismo ao Egito e de como ele se
desenvolveu ao longo dos primeiros séculos para então elucidar sua importância
no séc. IV.
A Chegada do Cristianismo ao Egito
Tradicionalmente,
atribui-se a evangelização do Egito a São Marcos, o autor de um dos Evangelhos.
Ele é tido até hoje – inclusive pelos cristãos egípcios – como o primeiro
bispo/Patriarca de Alexandria, a mais importante cidade do Egito do ponto de
vista cultural e que se tornou a sede da Igreja egípcia. Após um primeiro
impulso de expansão na segunda metade do séc. I e primeira metade do séc. II, o
cristianismo já estava solidificado no Egito ao final do séc. II, como aliás,
em todo o norte da África.
O
cristianismo na África produziu importantíssimos personagens e teólogos de
vulto – além daqueles dos quais vamos falar mais adiante – como Tertuliano, São
Cipriano e o grande Santo Agostinho. O cristianismo africano produziu ainda 3
papas: São Vitor I (189-199), São Melquíades (310/311-314) e São Gelásio I
(492-496). No entanto, apesar de bastante solidificado, o cristianismo no norte
da África não resistiu ao impulso expansionista do Islã no séc. VII e
praticamente desapareceu, a exceção do Egito. Até hoje, cerca de 10% da
população egípcia – algo em torno de 8 a 10 milhões de pessoas – são cristãos
autóctones.
Os primeiros intelectuais cristãos do
Egito
Ao
final do séc. II e início do séc. III, o ambiente cultural e erudito de
Alexandria, mergulhado nos debates filosóficos – em especial neoplatônicos – se
misturou com o cristianismo e fez surgir dois grandes teólogos: Clemente de
Alexandria e Orígenes. Fazendo jus ao legado platônico de interpretação
alegórica da Bíblia já adotado por um filósofo judeu de Alexandria – Fílon de
Alexandria – Clemente de Alexandria e Orígenes inauguraram a tradição da
interpretação alegórica cristã da Bíblia. Nas palavras de Drobner, “de acordo
com a visão de mundo platônico-estoica, de que o mundo visível não passa de
imagem do mundo verdadeiro das ideias, por trás do sentido literal da Sagrada
Escritura” há um “sentido espiritual mais profundo”[1].
Essa
maneira de interpretar – alegórica – se contrapunha à maneira de interpretar a
Bíblia típica de outra importante cidade da Antiguidade Tardia, Antioquia, onde
se dava preferência a interpretações literais. A tradição da interpretação
alegórica nascida em Alexandria influenciou grandes teólogos na Antiguidade,
como Ambrósio, Agostinho e Atanásio. E é até hoje importantíssima no
catolicismo. Nunca é demais lembrar, portanto, que a interpretação alegórica
cristã da Bíblia nasce e se desenvolve no Egito, portanto, na África.
O séc. IV
O
séc. IV é um dos mais significativos – e também um dos mais conturbados –
séculos da história do cristianismo. Começou com a mais violenta perseguição
aos cristãos já realizada pelo Império Romano: em 303, o imperador Diocleciano
iniciou tal perseguição, que se mostrou particularmente violenta no norte da
África e no Egito. Aliás, essa perseguição é tão significativa para os cristãos
do Egito que eles não contam os anos a partir do presumível nascimento de
Cristo, mas a partir do início do reinado do próprio Diocleciano, em 284. Eles
chamam os anos não de “antes de Cristo” ou “depois de Cristo”, mas de “Ano dos
mártires”, fazendo uma referência aos cristãos martirizados pela perseguição de
Diocleciano.
De
forma surpreendente, 10 anos depois, as perseguições cessaram e o cristianismo
foi declarado religião lícita por meio do Edito de Milão, promulgado pelos
imperadores do Ocidente e Oriente, respectivamente, Constantino e Licínio. Constantino
também foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, segundo Eusébio
de Cesaréia, o Historiador eclesiástico e biógrafo do próprio Constantino,
devido a um sonho na véspera de uma batalha contra o aspirante a imperador
Magêncio.
A
partir de então, o cristianismo – que ganhava adeptos e crescia na
clandestinidade – passou a ganhar adeptos e crescer às claras, até que, ao
final do mesmo século, o imperador Teodósio o declarou religião oficial do
império romano, por meio do Edito de Tessalônica (380). A Igreja passou a ser
reconhecida institucionalmente e o séc. IV se tornou o século dos grandes
debates teológicos e dos grandes concílios, o momento no qual a Igreja
intensificou as expressões dogmáticas de sua doutrina. É por isso que o século
IV é conhecido como a época de ouro da patrística – ou seja, da teologia dos
chamados Padres da Igreja, os primeiros grandes teólogos do cristianismo.
Mas
se por um lado as perseguições terminaram, por outro, a Igreja passou a ter de
lutar contra as tentativas de interferência do poder imperial nos seus
assuntos; os imperadores cristãos julgavam ter o direito de interferir nas
questões doutrinais. Se eles possuíam poderes políticos quase que absolutos
sobre seu império, julgavam que poderiam ter também poderes sobre a Igreja e o
cristianismo. A própria Igreja – por meio principalmente de autoridades
eclesiásticas como Atanásio de Alexandria, por exemplo – não aceitava essas
tentativas de ingerência do Estado em seus assuntos. E muitos dos embates do
século em questão aconteceram por conta disso. E é exatamente no Egito do séc.
IV que muito do que acontece de importante nesse contexto toma forma, seja no
âmbito meramente teológico e doutrinal, seja no âmbito das relações entre o
Império e a Igreja.
O Egito do séc. IV
Podemos
resumir o que vamos falar sobre o Egito do séc. IV em 3 grandes personagens
dessa época que eram nativos do país: Antão, Pacômio e Atanásio. Eu costumo
chamá-los de “ o esplendor do Egito”, exatamente por serem os 3 personagens
principais dessa época de ouro do Egito, pouco conhecida, mas extremamente
importante para a história da Humanidade e, principalmente, para a história do
cristianismo e do Ocidente.
Antão
é chamado de “O Pai dos Monges”, por ser considerado o fundador do monasticismo
cristão, esse fenômeno tão importante para a cristandade; ele teria sido o
primeiro a se refugiar no deserto do Egito para viver como eremita. Pacômio,
por sua vez, seria o fundador do monasticismo cenobita; diferentemente dos eremitas,
que vivem sozinhos por conta própria, os monges cenobitas vivem em um mosteiro,
em comunidade. Pacômio fundou o primeiro mosteiro, Tabenasi, e juntou a seu
redor, vivendo sob as normas de uma regra monástica, eremitas que antes vivam
só, dando assim, início ao monasticismo cenobita, que mais tarde se espalharia
por toda a cristandade e seria uma das forças modeladoras da Idade Média e do
Ocidente. Atanásio foi o grande
patriarca do Egito no séc. IV: todas as páginas que puderem ser escritas sobre
ele seriam pouco para fazer justiça ao seu legado e importância, seja por meio
de sua atuação pastoral contra os cismas e as heresias do séc. IV, seja por
conta de sua vasta produção literária.
Falemos
um pouco de cada um desses 3 personagens.
“O Deserto tornou-se uma cidade”: o
surgimento do monasticismo.
Essa
famosa frase de Atanásio, na sua obra Vida
e Conduta de Santo Antão (§ 14), resume um dos novos
fenômenos sociais do séc. IV: o monasticismo cristão. Segundo Atanásio – que
redigiu a famosa biografia de Antão – inspirados pelo exemplo de Antão,
inúmeros cristãos deixaram suas vidas e foram para o deserto viver como monges
eremitas, a ponto de o deserto ficar tão povoado quanto uma cidade.
Antão
era um egípcio nativo; sua língua materna era o copta, a língua autóctone do
Egito. Muito provavelmente, não era helenizado, detalhe importante que será
abordado em breve. Historicamente, é questionável que ele tenha sido, de fato,
o primeiro monge eremita cristão. Não é impossível que tenha havido contemporâneos
a ele que tenham se refugiado no deserto nem que tenha havido gente que fez o
mesmo antes dele. Mas o fato é que ele se tornou o mais célebre e ficou
conhecido como aquele que inspirou o fenômeno que se espalhou pelo Egito e
depois por toda a cristandade.
O
monasticismo surge mais ou menos no mesmo momento em que o cristianismo é
legalizado. A legalização do cristianismo fez com que as perseguições aos
cristãos acabassem no império e, consequentemente, os martírios, ou seja, o
assassinato de cristãos que não negavam sua fé. Até então, o herói do
cristianismo, o cristão modelo, era o mártir. Com o fim dos martírios, o monge
passa a ser visto como o novo herói, o novo modelo de cristão. Esse novo modelo
de herói se baseava em grande medida no ideal de que o monge era o novo mártir.
Algumas décadas depois de Antão, Jerônimo (Epístola
3, 5.108, 31; Tractatus de Ps.115),
por exemplo, vai qualificar o monasticismo de o “novo martírio”: Os mártires
morriam literalmente, os monges morrem alegoricamente, para o mundo.
O
fato de o monasticismo ter nascido no Egito, e não em qualquer outro lugar da
cristandade, costuma ser explicado por dois fatores. Primeiramente, o exemplo
de personagens bíblicos que se refugiavam no deserto para viverem uma vida de
penitência e oração – como Elias, João Batista e o próprio Jesus – poderia ser
fácil e literalmente seguido por um egípcio, já que o deserto é uma realidade
geográfica da região. O Egito é um país incrustado no deserto e entrecortado
pelo Nilo e seu vale fértil. Mas basta uma breve caminhada de alguns
quilômetros para se distanciar o suficiente da área fértil e estar no deserto
pedregoso e montanhoso. Portanto, o que para a maioria dos cristãos era uma
metáfora – refugiar-se no deserto – para o egípcio era uma realidade palpável,
próxima, cotidiana.
A
segunda razão pode ser apontada como o encontro direto do cristianismo com a
cultura nativa do Egito, sem o intermédio da cultura grega. Nas regiões
helenizadas – ou seja, sob a influência da cultura e da língua gregas desde a época
de Alexandre, o Grande (séc. IV a.C.) – do Egito, o cristianismo chegou e se
espalhou vinculado à cultura grega. Mas
a medida que chegava às regiões mais longínquas do país, regiões fora da
influência da cultura e língua grega, o cristianismo mantinha contato direto,
sem intermediários, com a cultura autóctone do Egito, a milenar e sapiencial
cultura egípcia. E esse encontro deu origem ao monasticismo.
Um
exemplo interessante desse contato direto do cristianismo com a cultura nativa
do Egito está ligado às crenças na vida após a morte. A civilização faraônica
foi uma das primeiras a desenvolver todo um conjunto de crenças relativas à
vida no além. Essas crenças versavam sobre uma vida material e corpórea após a
morte; daí a necessidade de mumificação do defunto, pois se acreditava que ele
iria usar o corpo e seus pertences pessoais no além. Essa crença numa vida
corpórea e material no além diferia das crenças dos gregos – surgidos séculos
depois – segundo as quais a vida após a morte era apenas espiritual.
As
crenças nativas egípcias sobre essa vida corpórea após a morte eram tão fortes
e enraizadas que sobreviveram à helenização e à romanização. Isso pode ser
comprovado, por exemplo, pelo fato de a de a mumificação ter continuado a ser
uma prática no Egito durante os períodos helenístico e romano, como comprovam
as famosas múmias do oásis do Fayum. Assim sendo, quando o cristianismo chega
ao Egito, ele se encaixa como uma luva, já que, no cristianismo existe a crença
na ressurreição dos mortos, ou seja, a ideia de que no fim dos tempos, todos
ressuscitarão na carne – os justos indo para o Paraíso e os ímpios para o
inferno – vivendo uma vida eterna num corpo glorioso, e não somente no
espírito. Essa crença egípcia e sua importância podem ser atestadas até às
vésperas da islamização por meio de relatos lendários de martírios de cristãos
– chamados pelos historiadores de Paixões
Épicas coptas ou Martiriológios Coptas
– nos quais o corpo do mártir – apesar das horríveis torturas que lhe são
impostas – permanece intacto, testemunhando a importância de sua preservação
para a vida eterna. Temos, nesse caso, um claro exemplo do encontro do
cristianismo popular com as crenças autóctones egípcias.
Falemos
agora de Pacômio. A contribuição desse outro egípcio nativo que provavelmente
também não teve contato substancial com a cultura helênica foi, digamos assim,
institucionalizar o monasticismo. Ao invés de os monges viverem como eremitas,
morando em cavernas no deserto, cada um por conta própria, muitos deles
passaram a viver em mosteiros, em comunidade, seguindo uma regra monástica. Além
dos mosteiros fundados por Pacômio, muitos outros foram surgindo no sul do
Egito e logo se espelharam por toda a cristandade.
Pacômio
foi muito provavelmente o autor da primeira regra monástica: um texto com
regras que regulam a vida dos monges dentro do mosteiro, com normas sobre
alimentação, horários, orações, trabalhos, atividades, etc. Essa regra foi
muito provavelmente redigida em copta e depois traduzida para o grego. Anos
mais tarde, ninguém menos que São Jerônimo traduziu-a do grego para o latim; é
provável que essa tradução latina tenha influenciado Bento de Núrsia – também
conhecido como São Bento – na elaboração de sua famosa regra monástica, que
costuma ser resumida no adágio “Ora et labora”, e cuja importância para a
formação do Ocidente é essencial.
Os
monges cenobitas, ao entrarem para o mosteiro, aprendiam a ler, e muitos
aprendiam também a escrever e se tornavam escribas, numa época em que a imensa
maioria da população era analfabeta. Os mosteiros costumavam ter bibliotecas
imensas, que são responsáveis por preservar a maioria da literatura
greco-romana que chegou até nós. E esse fenômeno aconteceu tanto no Oriente
quanto no Ocidente. Além de ser o responsável pela preservação da cultura e da
literatura greco-romana, nunca é demais lembrar o papel fundamental que o
monasticismo teve para a formação da cristandade e em especial para a formação
da civilização ocidental.
Os
monges foram os grandes intelectuais da Idade Média; No Ocidente, em
particular, alguns monges, como Tomás de Aquino e Boaventura, ficaram célebres
e entraram para a história devido a sua produção literária, intelectual e
filosófica. Pode-se citar ainda outros monges menos famosos, como Dionísio
Exíguio, que no séc. VI calculou o ano do nascimento de Cristo; a partir de
então, a tradicional contagem dos anos, que começava com a fundação de Roma,
passou a ser gradualmente substituída pela contagem dos anos que levava em
conta o ano do suposto nascimento de Jesus. Além disso, a ação dos monges da
Antiguidade Tardia e Idade Média como copistas foi essencial para a preservação
da maioria da literatura da Antiguidade clássica, como mencionado acima. Sem a
ação desses obstinados escribas monásticos, muito da produção literária da
Antiguidade não teria chegado até nós.
Assim
sendo, nunca é demais lembrar que esse fenômeno tão importante da história da
humanidade – e em especial do Ocidente – nasceu no Egito e, portanto, na
África. Essa realidade é quase que desconhecida, até mesmo de historiadores, e
exatamente por isso deve ser revelada e relembrada com afinco e insistência.
O século de Atanásio
O
outro grande personagem do Egito do séc. IV foi Atanásio de Alexandria, o
célebre patriarca e Doutor da Igreja. Inspiro-me aqui na expressão para falar
da Atenas do séc. V a.C, como século de Péricles e a aplico a Atanásio, dada a
sua importância para o que aconteceu no séc. IV. A ação desse Patriarca foi tão
importante e incansável que ele chegou a ser exilado por 5 imperadores
diferentes, e isso, após o Edito de Milão, ou seja, numa época na qual o
cristianismo já estava legalizado. Seria impossível falar de toda a atuação de
Atanásio em um único texto. Vamos nos concentrar nos seguintes aspectos,
portanto: sua ação contra os arianos, sua ação contra o cisma meliciano, sua
ação em favor do estabelecimento do cânon e sua produção literária.
Os arianos
No
início do séc. IV, surgiu uma das mais graves controvérsias da história do
cristianismo, a controvérsia ariana. Grosso modo, um padre de origem Líbia que
atuava no Egito, Ário, começou a defender que Jesus não era Deus, mas uma
criatura; a mais excelsa criatura, criada antes de tudo, mas uma criatura.
Logo, as ideias desse padre causaram confusão a tal ponto que se viu a
necessidade de se convocar o primeiro grande Concílio da história da Igreja, o
Concílio de Niceia (325). O Concílio não somente reafirmou que Jesus era Deus
como promulgou uma profissão de fé que definia como tal divindade deveria ser
expressa: “gerado, não criado, consubstancial ao Pai”.
A
época do Concílio, Atanásio era apenas secretário do Patriarca de Alexandria, Alexandre.
Quando Atanásio tornou-se patriarca, teve de trabalhar em prol da aceitação do
Concílio e de sua profissão de fé. Sua grande batalha foi fazer com que a
expressão “gerado, não criado, consubstancial ao Pai” fosse aceita, já que
muitos bispos, talvez até a maioria, da época se opunham à fórmula.
Em
resumo, se hoje os cristãos acreditam que Jesus é Deus, eles devem isso à
incansável batalha desse africano egípcio, Atanásio de Alexandria.
O cisma meliciano
Outra
grande batalha de Atanásio foi contra o cisma meliciano. O fim da perseguição
de Diocleciano gerou um problema: o que fazer com aqueles cristãos que tinham
renegado a fé diante da ameaça de morte? Aceitá-los de volta como cristãos ou bani-los
para sempre. A posição geral da Igreja era de aceitá-los de volta, mas um grupo
de egípcios, liderados pelo bispo Melécio de Lycópolis, argumentava que eles
deveriam ser excluídos ou readmitidos somente mediante severas penitências
públicas. O impasse acabou resultando em um cisma: os seguidores de Melécio –
daí o nome “cisma meliciano” – se separaram da Igreja e passaram a chamar a si
mesmos de “igreja dos mártires”. Atanásio dedicou boa parte de sua vida
pastoral a combater e acabar com esse cisma, denunciando várias de suas
práticas, como, por exemplo, desenterrar os restos mortais de mártires para
enterrá-los em outro local.
O cânon
Todo
ano, os patriarcas de Alexandria escreviam uma carta festiva, na qual definiam
as datas das festas religiosas da Igreja do Egito naquele ano. Nessas cartas,
eles aproveitavam para tratar de assuntos doutrinais. Em 367, Atanásio escreveu
a sua carta festiva mais famosa, na qual ele fornece uma lista canônica, ou
seja, uma lista com os textos que deveriam fazer parte da Bíblia. Não há espaço
aqui para uma discussão profunda sobre a questão do estabelecimento do Cânon,
mas pode-se dizer que essa lista de Atanásio se insere no conjunto das
importantes discussões sobre o estabelecimento do texto bíblico. Trata-se de
uma das mais antigas listas canônicas cuja procedência e autor são conhecidos.
Mais do que isso, é uma lista elaborada por uma autoridade eclesiástica cuja
atuação no conturbado século IV é bastante conhecida e foi bastante decisiva.
Obras de Atanásio
As
obras de Atanásio refletem sua atuação pastoral e abordam as questões nas quais
ele se envolveu, como a controvérsia ariana, o cisma meliciano, etc. Destaquemos
algumas de suas obras.
A
primeira é a Encarnação do Verbo.
Como o próprio título da obra sugere, nela, o autor defende a encarnação do
verbo, ou seja, que Jesus é Deus. Essa obra é o testemunho doutrinal da maior e
mais famosa batalha pastoral de Atanásio, a batalha pela aceitação da divindade
de Jesus, diante das dificuldades na recepção do Concílio de Niceia e do seu
credo. A segunda obra que destacamos aqui é a Vida e Conduta de Santo Antão: a primeira biografia de um santo,
que acabou servindo de modelo para as biografias de santos posteriores. Essa
obra ajudou Atanásio a se manter próximo dos monges egípcios, que se tornaram
um dos grandes aliados do patriarcado de Alexandria.
Fontes para o estudo do Egito cristão
no séc. IV
Não
é segredo, nem novidade, que o trabalho do historiador depende necessariamente
da análise de fontes primárias. Sem as fontes primárias, o historiador não está
apto a tecer seus próprios comentários e redigir sua própria análise da
história; ele se limita, simplesmente, a repetir o que outros historiadores já
disseram antes dele. Não seria diferente no caso da história do cristianismo na
Antiguidade tardia e, em especial, no que tange ao assunto do presente texto, no
caso do Egito do séc. IV. Assim sendo, cabe aqui um pequeno inventário das
principais fontes primárias que permitem o estudo do contexto aqui exposto.
Pode-se
dividir os principais conjuntos de fontes primárias que nos ajudam a conhecer o
Egito cristão do séc. IV nos seguintes grupos: Histórias Eclesiásticas, Cartas
Sinodais, Literatura eclesiástica, Literatura monástica (cartas, regras,
instruções), Vidas de Santos (hagiografias) e Apócrifos do Novo Testamento.
Conclusão
O
Egito do séc. IV foi o palco de uma série de eventos decisivos para a história
do cristianismo e, consequentemente, do Ocidente. Esses acontecimentos não só
influenciaram como modelaram de maneira decisiva questões fundamentais para a
história de toda a cristandade, como o surgimento do monasticismo, a crença na
divindade de Jesus e a formação da lista dos textos bíblicos. Esses eventos
foram igualmente protagonizados por personagens egípcios, portanto, africanos. Essa
é uma realidade pouco conhecida, mas que jamais deve ser esquecida: A África,
por meio do Egito, foi o centro intelectual do cristianismo no séc. IV, esse
momento tão decisivo na história dessa religião e da humanidade.